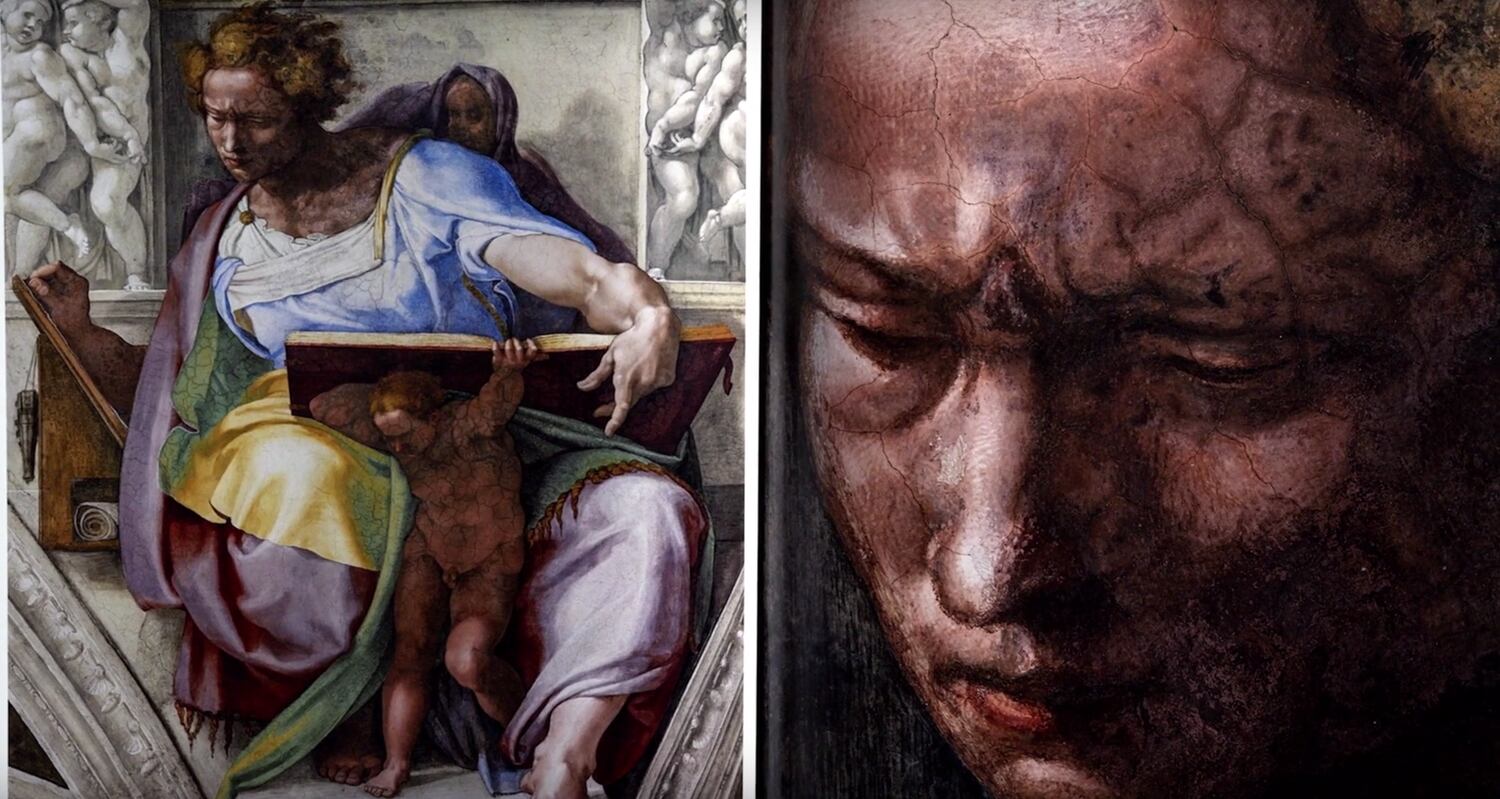Contra a nossa tristeza e ansiedade
por Vamberto de FreitasPorém,
as palavras são o que temos/e só com elas ao nosso dispor/iremos fazer o que
podemos:/dar ao nosso mundo alguma cor.
Eugénio
Lisboa, poemas em tempo de peste
"Muito tenho escrito sobre a
obra prolífica e de grande alcance, quer no ensaísmo, volumes de diários,
memórias e poesia. Para mim, tornou-se um mentor, tal como Edmundo Wilson na
América, com a sua eloquente prosa, e, sim, o humor que também o mais famoso e
respeitado crítico americano dirigia a si próprio e a outros, especialmente
nalguma da sua poesia. Há aqui uma diferença grande: enquanto Wilson nunca foi
levado a sério neste género de escrita, Eugénio Lisboa já recebeu grande
reconhecimento da sua poesia com o livro de há alguns anos A Matéria
Intensa. Reconhecido internacionalmente, foi-lhe conferido um
doutoramento honoris causa pela Universidade de Aveiro, onde
leccionou como Professor Catedrático Convidado durante alguns anos, assim como
pela Universidade de Nottingham, da Grã-Bretanha, onde viveu 17 anos como
conselheiro cultural na nossa Embaixada em Londres. Não me vou alongar mais com
a sua numerosa bibliografia, só dizer que o especialista sobre a obra de escritores
como José Régio e Jorge de Sena já tem a apreciação superior da comunidade
intelectual de língua portuguesa e estrangeira, e poucos entre nós conhecerão
as mais variadas literaturas do mundo, entre as quais a francesa e anglófona
predominam e são constantemente citadas nos seus escritos em quase todos os
géneros. Em pessoa, muito falei e aprendi com ele em esporádicas conversas na
Costa da Caparica, quando ele visitava a sua amiga Teresa Martins Marques, e
depois num ou dois almoços na sua casa de São Pedro do Estoril. Falamos à
distância sobre um pouco de tudo com alguma frequência. Escreve agora estes
poemas satíricos, cómicos, destemidos, com a sua ferve de sempre, que nunca
poupa situações caricatas, e mesmo determinadas figuras na literatura e em outros
sectores públicos da nossa sorte em todos os tempos, agora coléricos e de
“peste” que nos ameaça a todos com doença e morte. Já passou os seus grandes
desgostos e dores pessoais, mas nada disso o verga ao que temos por
“destino”. Poemas em tempos de peste não é só helariante, é
uma gargalhada para se opor à tristeza e ansiedade que todos sentimos no
confinamento forçado e sem quase a convivência de amigos e conhecidos.
Nunca se ri dos que já
sofrem na pele o maldito vírus: ri-se da pretensiosidade inconsciente de
outros, de Christine Lagarde (A Senhora Christine Lagarde/acha que os velhos
vivem de mais;/ pra que a economia se resguarde/há que apressar os ritos finais);
Gonçalo M. Tavares (o que diz não faz sentido/e põe-me os olhos em bico)
por com 50 anos de idade já ter alguns 60 livros que, goza Eugénio, nada dizem,
e ainda de Pinto da Costa (mas a pandemia estraga o engenho/e faz-nos uma
data de negaças/que fornicam o mais completo empenho), porque o futebol de
ontem já não é possível hoje. O resto são as suas boas memórias em África,
fazendo chamamentos a antigos amigos na sua Lourenço Marques do passado, alguns
dos quais já não estão entre nós, como, por exemplo os inesquecíveis Reinaldo
Ferreira e Rui Knofli. De resto, vai ainda à cabeça de Nuno Melo, que Eugénio
diz ser do Cê Dê Esse. Por outro lado, dá pancada noutros
pequenos partidos, como o Chega, e a jovens conservadores (Não
há coisa mais ridícula/que ser jovem de direita/a esse nem a clavícula/sequer
se lhe aproveita!). Um escritor da velha guarda não desarma nunca nestes
poemas. Ficam-lhe, em termos positivos ou de elogio, Camões, a língua
portuguesa e um lamento sobre a sorte e a solidão de Fernando Pessoa em vida e
na morte em Lisboa (plantado em pedra aqui no Chiado./Palhaço de turistas me
fizeram,/ só, entre papalvos, alarpardado!…). Eugénio Lisboa tem, uma
vez mais, uma escrita totalmente única entre nós: ninguém teme na literatura
nacional ou de além fronteiras. Num dos seus ensaios, publicado mais tarde
noutro volume, confessa: relembra, só como exemplo, que Jorge Amado tinha sido
uma das suas referência maiores em jovem, mas anos depois corrigiu essa atitude
para nos dizer do seu quase afastamento da obra do autor brasileiro. Em
Portugal, nos últimos anos tem levado à parede nomes de grande “prestígio”
entre nós, como António Lobo Antunes, e, com mais azedume subtil, como noutro
texto que não este, a Eduardo Prado do Coelho, ainda em vida e até mesmo quando
este já se encontrava sepultado há um bom tempo. No entanto, nunca poupa elogios
ou meiguice ao seu passado e às pessoas da sua vida, com grande destaque
saudoso da sua mulher Maria Antonieta, aos seus autores eleitos, e à sua única
companheira de agora, a gata Ísis e as suas traquinices nesta mesma poesia
carregada de sátira ardente e humor generalizado, em versos fulminantes e
sempre numa linguagem livre do habitual jargão ou teorias da literatura em
moda. É, uma vez mais, mestre na citação de inúmeros escritores quando quer
reforçar um ponto de vista sobre determinados textos críticos os ensaístas. Os
leitores, mesmo os que só se ficam pela sua coluna no JL lisboeta,
sabem muito bem disto. As crónicas e ensaios de outro livro publicado pela
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, em 1996, para além de tudo mais que menciono
aqui, Eugénio Lisboa reforçou indelevelmente a sua credibilidade e capacidade
literária. Poemas dos anos da peste indica que andamos todos
rodeados dela, mesmo que de outra natureza, desde a sua juventude em Lourenço
Marques (nunca o vi escrever “Maputo” nos anos seguintes), já em Portugal.
Neste poemas em tempo de peste escreve em formas várias,
decassílábicos (mais ou menos, como ele próprio afirma), em redondilhas
maiores, heptassílabos, sonetos, e ainda no que ele chama pentassílabos. Vai
desde as antigas figuras, como referi, a outros dos nossos dias em acções
variadas na nossa sociedade.
Quando o seu grande amigo
Rui Knopli, repito aqui, faleceu, Eugénio Lisboa lutou convictamente para que o
seu espólio fosse poupado e devidamente arquivado. Eis aqui o seu outro lado de
generosidade e respeito absoluto pelos que o mereciam em quaisquer
circunstâncias.
“Em tempos de peste e de
confinamento – escreve o autor na introdução ‘Poemas para baratinar a peste’ –
mais ou menos rigoroso, tendemos todos à melancolia, quando não ao desespero. É
nestas alturas que se recorre e deve recorrer ao humor e à faceirice, para
desanuviar o ambiente. [Recorda o célebre Decamoron de
Giovanni Boccassio, 1313-1375], segundo o qual aqueles
protagonistas, para fugirem aos horrores e ao perigo da peste negra, se
isolaram num cerco isolado a contarem-se histórias ladinas, picarescas,
apimentadas, licenciosas, para afastarem do espírito a mortandade que, lá fora,
assolava as populações”.
Eugénio Lisboa não é só um
dos nossos grandes críticos e ensaístas literários, como de tudo o resto que
lhe causa asco e desgosto. Como já ficou vincado aqui, vai além da literatura,
desde políticos aos mais corruptos em altas posições, especialmente em bancos e
outros sectores. O ter vontade de rir e da sátira não é novo, especialmente a
partir de Eça de Queirós e outros da mesma geração. Eugénio Lisboa enxerga toda
a nossa e outras sociedades que conhece de perto ou intimamente. Por entre as
suas muitas palavras de acidez, vai sempre ao ponto com o resto. A sua disponibilidade
generosa são firmes em defender os mais pobres e indefesos, os mais velhos ou
os que caíram na rua sem rede. Rebelde e humanista durante uma longa vida, que
felizmente continua a passear-se vivamente ali nos arredores mais apetecíveis
de Lisboa, não desarma nunca perante a escuridão que tem sido parte das nossas
vidas, e agora ameaça-nos com uma cama no hospital e, nalguns casos, a morte.
Nunca se rende a nada e ninguém. Do poema “Versinhos De Um Poeta Com Algumas
Dificuldades de Conjugação”, e em que ele brinca com e louva a própria língua
portuguesa, com uma das suas muitas notas de rodapé para divertir os seus
leitores, pede como que uma desculpa a quem ler este seu livro: “com um muito
humilde pedido de desculpas por isto não ser tão bom como, digamos, Os
Lusíadas”:
O
Trump, fodido, irá-se
embora
se a peste vá-se.
Que
chatice se ele ficasse
no
governo e nos lixasse!
Que
bom se ele se fixasse
na
sua Torre e se calasse!
Se o
Almada ainda falasse,
diria
que o Trump, sem classe,
cheira
mal da boca – Hélas!
O semanário Expresso resolveu
há umas semanas publicar alguns outros destes poemas. Fizeram bem. Imagino que
alguns dos seus leitores muito se riram, e por uns momentos esqueceram a nossa
presente situação e tragédia. Rir de nós próprios é outro sinal de saúde e
alguma esperança que nem tudo vai correr mal.
Vamberto de Freitas, no blog As duas margens, em 20 de Novembro de 2020
..................... " .........................
Eugénio Lisboa, poemas em tempo de peste, Lisboa, Guerra & Paz, 2020.